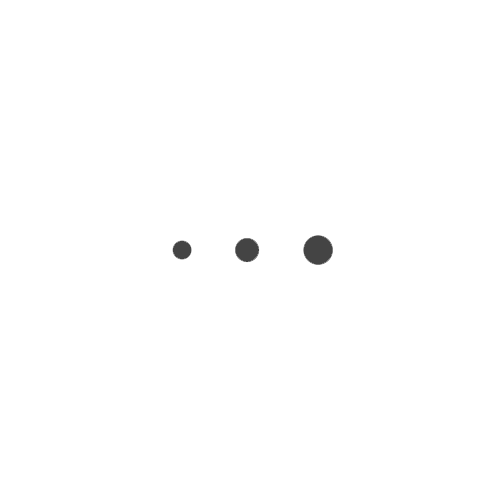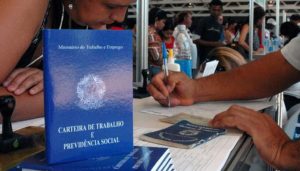PORTFÓLIO

O ‘E’ que define o futuro do ECA Digital
Proteção de crianças e adolescentes exige precisão regulatória
Paulo Vidigal, Luis Fernando Prado
(Imagem: Freepik)
A recém-sancionada Lei 15.211/2025, batizada de ECA Digital, representa um marco regulatório dotado das melhores intenções. Contudo, a urgência na aprovação ao final de sua tramitação no Legislativo talvez tenha gerado um desafio interpretativo logo no artigo 1º da nova lei, que trata de seu escopo de aplicação.
A lei pretende regular produtos e serviços de tecnologia da informação “direcionados a crianças e a adolescentes no país ou de acesso provável por eles”. Para definir o que seria esse acesso provável, o legislador (artigo 1º, parágrafo único) estabelece três situações: a “suficiente probabilidade de uso e atratividade”, a “considerável facilidade ao acesso e utilização” e, por fim, o “significativo grau de risco à privacidade, à segurança ou ao desenvolvimento biopsicossocial”.
A leitura do texto é, ou ao menos deveria ser, inequívoca. A estrutura aditiva da norma aponta para uma única conclusão lógica: os requisitos são cumulativos. Para um produto ou serviço ser enquadrado, ele precisaria atender aos três critérios simultaneamente: ser atraente, de fácil acesso E apresentar um risco significativo.
A estrutura gramatical é a viga mestra da interpretação. A conjunção aditiva “e” conecta os incisos II e III. O legislador não escreveu “ou”; ele escreveu “e”. A escolha vocabular não é um acaso nem um preciosismo. Em bom português, a partícula “e” soma, adiciona, exige a presença de todos os elementos que conecta. Ignorar isso não é interpretar, é reescrever a lei.
Ocorre que uma segunda interpretação, de caráter expansivo, tem ganhado espaço no debate público. Embora bem-intencionada na busca por maior proteção, essa leitura alternativa dos requisitos dispostos no referido dispositivo legal pode gerar consequências desproporcionais. Essa tese trata os três requisitos como alternativos, sugerindo que bastaria preencher apenas um deles (como “considerável facilidade de acesso”) para arrastar qualquer plataforma para o complexo regime do ECA Digital.
Se essa tese prevalecesse, estaria decretado um colapso regulatório digital. Qual provedor de aplicação não possui “considerável facilidade de acesso”? Uma plataforma de e-commerce de sapatos? Um portal que reúne informações sobre como viver bem na terceira idade? Uma loja online de venda de peças de maquinário agrícola? Caso a “facilidade de acesso” bastasse, isoladamente, para configurar o “acesso provável”, todos esses sites e plataformas, sem exceção, estariam enquadrados e, portanto, forçados a se adaptar à nova lei tal como se fossem primariamente destinados a menores de idade.
Reconhecer a cumulatividade dos requisitos do parágrafo único do artigo 1º não é uma mera questão de preferência hermenêutica; é a única interpretação que, alinhada ao espírito da lei, confere racionalidade, proporcionalidade e efetividade à norma. É até compreensível a preocupação por trás da interpretação alternativa: ampliar ao máximo a proteção. Contudo, efetividade regulatória e abrangência ilimitada raramente caminham juntas. Uma norma que pretende regular tudo acaba, na prática, regulando mal ou não regulando adequadamente coisa alguma.
O elemento de risco previsto no inciso III é, na verdade, o fator determinante. É o risco “significativo” (à privacidade, à segurança ou ao desenvolvimento biopsicossocial de crianças e adolescentes) que deve acender o alerta regulatório em relação a produtos e serviços não propriamente direcionados a menores.
Um produto ou serviço não direcionado a menores pode até acabar sendo de fácil acesso ou atrativo, mas, se não apresentar riscos relevantes a crianças e adolescentes, por que submetê-lo a um regime criado em função do risco? Nem toda porta aberta leva a um precipício e essa parece ter sido a premissa do legislador ao estruturar o critério de “acesso provável” no ECA Digital.
A análise dos trabalhos legislativos na Câmara dos Deputados ratifica essa visão, uma vez que o debate que permeou a construção da lei evidencia a preocupação em estabelecer um modelo proporcional, baseado em risco (risk-based approach), capaz de direcionar a força regulatória onde ela é mais necessária.
Não por acaso, o deputado Jadyel Alencar, em seu relatório sobre o então PL 2628 de 2022, enalteceu a introdução do nível de risco “como critério para a avaliação do acesso provável”, o que reforça que esse fator não é uma mera hipótese ou um simples exemplo, mas um elemento essencial de enquadramento. A escolha do termo “critério” pelo deputado em seu relatório deixa claro que os elementos são requisitos cumulativos, e não meros exemplos de situações de “acesso provável”.
O histórico legislativo também reforça esse entendimento. O texto original do substitutivo levado à aprovação pelo plenário da Câmara dispunha que o acesso provável “será considerado quando houver” os critérios dos incisos I a III, formulação que evidenciava a cumulatividade dos três elementos sem deixar margem para dúvidas.
No entanto, na etapa de atribuição da redação final ao projeto de lei por parte da Câmara (após trabalho de adequação de linguagem e técnica legislativa), houve um ajuste textual que resultou na atual versão em debate. Apesar de, paradoxalmente ao seu objetivo, essa modificação ter trazido menos clareza ao texto, fato é que ajustes redacionais nessa etapa do processo legislativo não podem alterar o sentido normativo, o que apenas ratifica que a melhor interpretação é a da cumulatividade de critérios.
Portanto, ignorar a cumulatividade dos requisitos significa: (a) contrariar a literalidade do texto, que optou pela conjunção “e” em vez de “ou”; (b) ignorar a intenção do legislador, que buscou um arranjo proporcional e baseado em risco; e (c) desconsiderar o processo legislativo, admitindo que ajustes redacionais na etapa de redação final possam subverter o mérito do texto aprovado.
A interpretação alternativa, ao admitir o enquadramento baseado em um único requisito, acabaria por criar uma presunção absoluta de risco que simplesmente não se sustenta na realidade. Seria tratar o ambiente digital como um campo minado intransponível, de modo a nivelar por baixo toda a experiência online e impor custos de conformidade injustificáveis a uma vasta gama de serviços que não representam ameaça real aos destinatários da proteção legal.
A proteção de crianças e adolescentes exige precisão regulatória, sob pena de transformar o ECA Digital em obstáculo desproporcional ao desenvolvimento digital no Brasil. A interpretação cumulativa dos requisitos não é uma tese “pró-mercado”, mas sim “pró-racionalidade” e “pró-efetividade”. É o caminho mais seguro para que o ECA Digital cumpra sua vocação protetiva sem comprometer a pluralidade, a inovação e o acesso à informação que caracterizam a internet.

Paulo Vidigal
Sócio fundador do Prado Vidigal e especialista em Direito Digital, Privacidade e Proteção de Dados. Pós-graduado em MBA em Direito Eletrônico pela Escola Paulista de Direito, com extensão em Privacidade e Proteção de Dados pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e em Privacy by Design pela Ryerson University. Profissional de privacidade certificado pela IAPP

Luis Fernando Prado
Sócio fundador do Prado Vidigal Advogados e professor convidado em diversas instituições de ensino. LLM em Direito Digital e Sociedade da Informação pela Universidade de Barcelona. Especialista em Propriedade Intelectual e Novos Negócios pela FGV Direito SP e profissional de privacidade certificado pela IAPP
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/o-e-que-define-o-futuro-do-eca-digital